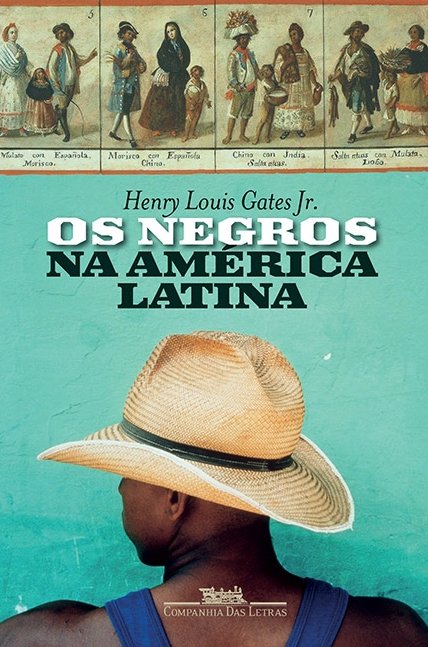Meu primeiro contato com Rubem Fonseca foi pelos livros “Agosto”, “O Caso Morel”, “Feliz Ano Novo” e alguns contos soltos que li ainda na adolescência. Não me impressionou e não teve grande impacto na minha formação. O estilo seco, duro e urbano de Fonseca não bateu tão pesado para alguém que sempre teve certo melindre com a literatura policial, terreno tão caro a Rubem, direta ou indiretamente.
Este artigo define bem:
“Rubem Fonseca inaugurou uma nova corrente na literatura brasileira contemporânea que ficou conhecida, em 1975 através de Alfredo Bosi, como brutalista. Em seus contos e romances utiliza-se de uma maneira de narrar na qual destacam-se personagens que são ao mesmo tempo narradores. Várias das suas histórias (em especial, os romances) são apresentadas sob a estrutura de uma narrativa policial com fortes elementos de oralidade. O fato de ter atuado como advogado, aprendido medicina legal, bem como ter sido comissário de polícia, nos anos 50 no subúrbio do Rio de Janeiro teria contribuído para o escritor compor histórias do submundo dentro dessa linguagem direta. Muito provavelmente devido a isso, vários dos personagens principais em sua obra são (ou foram) delegados, inspetores, detetives particulares, advogados criminalistas, ou, ainda, escritores.”
Com o tempo, resolvi acertar minhas contas com Fonseca. Comprei “Ela e Outras Mulheres”, lançado em 2006, “Amálgama”, o último, de 2013, “Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos”, de 1988 e “Os Prisioneiros”, o livro de contos que foi a sua estreia, de 1963. Um panorama interessante de diversas épocas de um escritor que produz há mais de 50 anos, portanto.
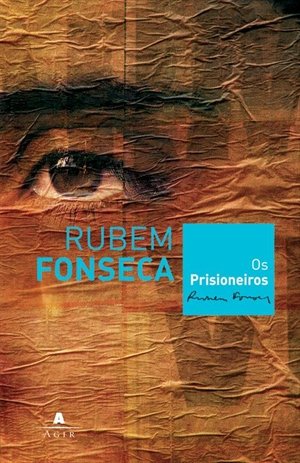 Impressiona a solidez da estreia. Há, em “Os Prisioneiros”, praticamente tudo que iria consagrar Rubem Fonseca dali em diante: a concisão narrativa, o estilo cru, sujo e os diálogos diretos, sem empolação, a descrição detalhada de procedimentos médicos como a autópsia (“Duzentos e vinte e cinco gramas”) – relato real de uma das aulas de medicina legal que teve na Escola de Polícia do Rio – a aparente amoralidade dos personagens, as referências enciclopédicas, históricas e da própria literatura, o flerte com a linguagem cinematográfica e o surrealismo, em suma, o lado mais instintivo e visceral do humano, a métrica afinada, com uma prosa paradoxalmente simples e repleta de camadas possíveis. “Os Prisioneiros”, é de fato, um monumento do conto brasileiro.
Impressiona a solidez da estreia. Há, em “Os Prisioneiros”, praticamente tudo que iria consagrar Rubem Fonseca dali em diante: a concisão narrativa, o estilo cru, sujo e os diálogos diretos, sem empolação, a descrição detalhada de procedimentos médicos como a autópsia (“Duzentos e vinte e cinco gramas”) – relato real de uma das aulas de medicina legal que teve na Escola de Polícia do Rio – a aparente amoralidade dos personagens, as referências enciclopédicas, históricas e da própria literatura, o flerte com a linguagem cinematográfica e o surrealismo, em suma, o lado mais instintivo e visceral do humano, a métrica afinada, com uma prosa paradoxalmente simples e repleta de camadas possíveis. “Os Prisioneiros”, é de fato, um monumento do conto brasileiro.
Rubem não se preocupa em entregar tudo mastigado para o leitor, em tecer longas digressões filosóficas. O faz com frequencia, mas apenas pincela, pontua – é um contraponto sucinto, uma provocação ensaiada. Seus contos acabam não raro de forma abrupta e inesperada, sem soluções prontas e, com frequencia, desagradáveis para o leitor desavisado: um bebê jogado na lixeira, mortes de todos os tipos imagináveis, prisões e sequelas diversas, amores interrompidos. Os personagens se encontram normalmente em situações degradantes e experimentam a mais profunda miserabilidade da existência, utilizando a violência, o sexo e os vícios como atenuantes.
O pai que guarda segredo do caso entre o filho menor de idade e a professora, a trepada que acaba em esganamento com a vítima gozando em prazer pleno, os amantes que nunca mais se veem, o bandido que prefere matar a namorada ao invés de executar o crime combinado, o sexo estragado pela filosofia, aproveitadores, outsiders e calhordas em geral. O cenário é de perfídia, sordidez, cinismo e desgraça. Me espanta que não tenha me apaixonado por Fonseca antes.
Da mesma forma que foi excessivamente celebrado e reconhecido por crítica, prêmios e público, é fácil acusar Rubem de ser medíocre, raso e limitado. As influências naturalmente são vastas, mas a literatura policial americana (Raymond Chandler e tantos outros) é nítida, ainda que Rubem seja tão brasileiro, tão urbano e tão fincado em nossa oralidade, tragédias e história popular. “O Inimigo” é espetacular nisso.
 Rubem também gosta de alfinetar os principais estigmas e linhas de pensamento dos séculos XIX e XX: a psicologia aparece com frequencia, expondo os clichês de Freud e cia (“Os prisioneiros”, conto que dá título ao livro, chega a ser didático), assim como o marxismo e a arte moderna (“Natureza-podre ou Franz Potocki e o mundo” encerra a questão). Ante a solidão e a aspereza da vida cotidiana, sempre entregues aos próprios demônios, resta o apego à lascívia, devassidão e violência física e “moral”, resta a ausência de padrões, a deglutição das convenções, o delírio, a desesperança.
Rubem também gosta de alfinetar os principais estigmas e linhas de pensamento dos séculos XIX e XX: a psicologia aparece com frequencia, expondo os clichês de Freud e cia (“Os prisioneiros”, conto que dá título ao livro, chega a ser didático), assim como o marxismo e a arte moderna (“Natureza-podre ou Franz Potocki e o mundo” encerra a questão). Ante a solidão e a aspereza da vida cotidiana, sempre entregues aos próprios demônios, resta o apego à lascívia, devassidão e violência física e “moral”, resta a ausência de padrões, a deglutição das convenções, o delírio, a desesperança.
Do jeito Fonseca de ser, os personagens encontram-se física e psiquicamente nus ante as angústias, os problemas e a sujeira que precisam enfrentar. É Rei Lear catando guimbas de cigarro na rua. Quando acerta, Rubem Fonseca é um monstro da concisão avassaladora. Um tiro na nuca que recebemos sem esperar, ainda que conheçamos suas estratégias. Beirando os 90 anos, Rubem já não conserva a primazia de seus melhores trabalhos. Ainda assim, é um ícone vivo de muito do que de mais interessante a literatura brasileira produziu.
**************
Conto “Ela”, de “Ela e Outras Mulheres”
Na cama não se fala de filosofia.
Peguei na mão dela, coloquei sobre meu coração, disse, meu coração é seu, depois pus sua mão sobre minha cabeça e disse, meus pensamentos são seus, moléculas do meu corpo estão impregnadas com moléculas do seu.
Depois botei a mão dela no meu pau, que estava duro, disse, é seu esse pau.
Ela nada disse, me chupou, depois chupei sua boceta, ela veio por cima, fodemos, ela ficou de joelhos, rosto no travesseiro, penetrei por trás, fodemos. Fiquei deitado e ela de costas para mim sentou-se sobre o meu púbis, enfiou meu pau na boceta.
Eu via meu pau entrando e saindo, via o cu rosado dela, que depois lambi. Fodemos, fodemos, fodemos. Gozei como um animal agonizando.
Ela disse, te amo, vamos viver juntos.
Perguntei, não está tão bom assim? Cada um no seu canto, nos encontramos para ir ao cinema, passear no Jardim Botânico, comer salada com salmão, ler poesia um para o outro, ver filmes, foder.
Acordar todo dia, todo dia, todo dia juntos na mesma cama é mortal. Ela respondeu que Nietzsche disse que a mesma palavra amor significa duas coisas diferentes para o homem e para a mulher. Para a mulher, amor exprime renúncia, dádiva. Já o homem quer possuir a mulher, tomá-la, a fim de se enriquecer e reforçar seu poder de existir.
Respondi que Nietzsche era um maluco.
Mas aquela conversa foi o início do fim.
Na cama não se fala de filosofia.


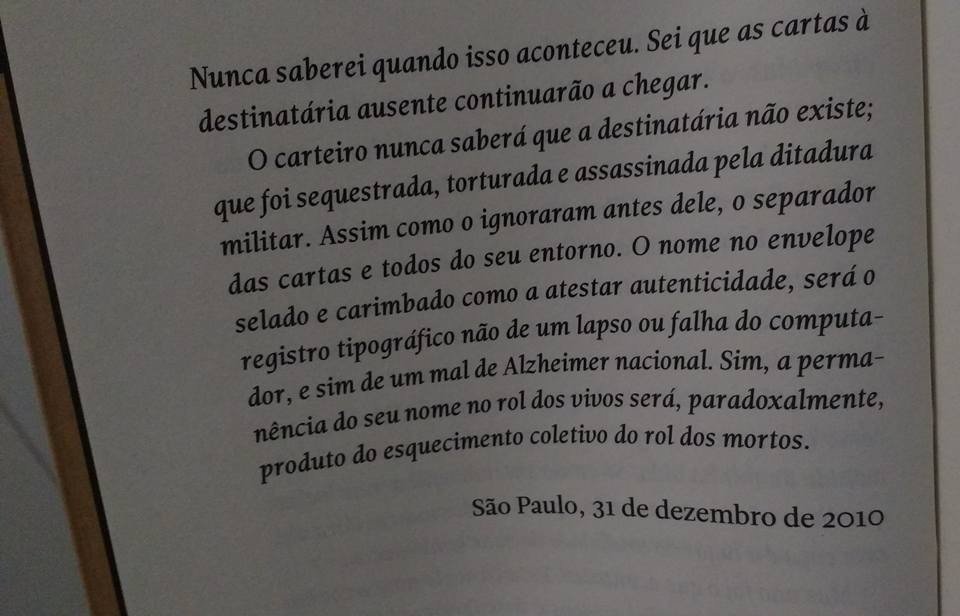



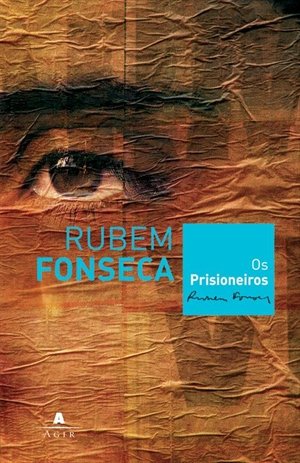 Impressiona a solidez da estreia.
Impressiona a solidez da estreia.