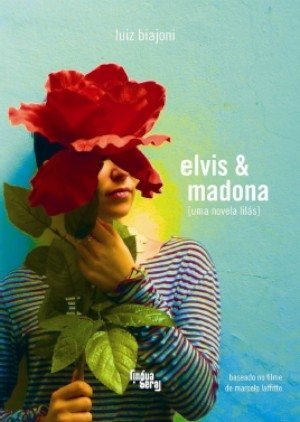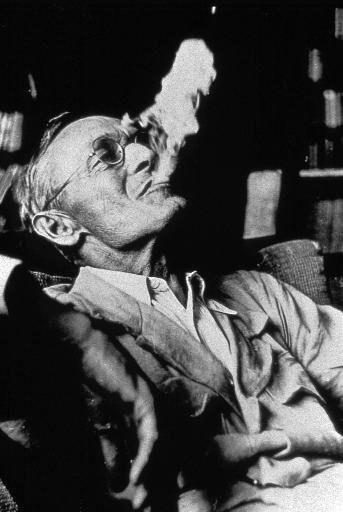Listas servem basicamente para que você possa encontrar sugestões bacanas, descobrir coisas novas, lembrar de outras, conhecer um pouco mais de quem a fez. Não é para concordar. E, como geralmente acontece, não listo abaixo os 15 livros que considero “os melhores”, mas os 15 que mais tiveram impacto na minha vida. Com um breve comentário de adendo. Difícil manter só 15. Ficaram de fora Emil Cioran, George Bernard Shaw, Joseph Conrad, Vladimir Nabokov, Turguenev, F. Scott Fitzgerald, Hemingway, Oscar Wilde, Marx e Bertrand Russel. 10 nomes que completam 25 livros. Um número símbolo pra mim, que adoro. Tá ótimo assim. É só uma lista, afinal. Mas parte da minha alma está aí:
O Verão e as Mulheres – Rubem Braga (1990): devorei tudo que encontrei de Rubem quando era moleque. poderia escolher qualquer um. mas este carrega no título duas paixões
Trecho: Sim, as mulheres estão sujeitas a uma grande influência do verão; no bojo do mês de janeiro elas sentem o coração lânguido, e se espreguiçam de um modo especial; seus olhos brilham devagar, elas começam a dizer uma coisa e param no meio, ficam olhando as folhas das amendoeiras como se tivessem acabado de descobrir um estranho passarinho. Seus cabelos tornam-se mais claros e às vezes os olhos também; algumas crescem imperceptivelmente meio centímetro. Estremecem quando de súbito defrontam um gato; são assaltadas por uma remota vontade de miar; e certamente, quando a tarde cai, ronronam para si mesmas.
1984 – George Orwell (1949): referência fundamental na minha vida, expressa em dezenas de artigos, blog, etc. um dos responsáveis pelo meu interesse por política
Trecho: “Quem controla o passado”, dizia o lema do Partido, “controla o futuro; quem controla o presente, controla o passado”. E no entanto o passado, conquanto de natureza alterável, nunca fora alterado. O que agora era verdade era verdade do sempre ao sempre. Era bem simples. Bastava apenas uma idéia infinda de vitórias sobre a memória. “Controle da realidade”, chamava-se. Ou, em Novilíngua, “duplipensar”.
Winston deixou cair os braços e lentamente tornou a encher os pulmões de ar. Seu espírito mergulhou no mundo labiríntico do duplipensar. Saber e não saber, ter consciência de completa veracidade ao exprimir mentiras cuidadosamente arquitetadas, defender simultaneamente duas opiniões opostas, sabendo-as contraditórias e ainda assim acreditando em ambas; usar a lógica contra a lógica, repudiar moralidade em nome da moralidade, crer na impossibilidade da democracia e que o Partido era o guardião da democracia; esquecer tudo quanto fosse necessário esquecer, traze-lo à memória prontamente no momento preciso, e depois torna-lo a esquecer; e acima de tudo, aplicar o próprio processo ao processo. Essa era a sutileza derradeira: induzir conscientemente a inconsciência e então tornar-se inconsciente do ato de hipnose que se acabava de realizar. Até para compreender a palavra “duplipensar” era necessário usar o duplipensar.
As Grandes Obras Políticas, de Maquiavel a Nossos Dias – Jean Jacques-Chevallier (1982): emprestado por um professor no ensino médio, foi o livro que abriu minha cabeça à machadadas para o mundo. Chevallier é um monstro de erudição, mas consegue tratar cada autor e cada obra com precisão e o máximo de isenção possível, analisando as obras políticas chave do absolutismo até a democracia. Para ler várias vezes.
Trecho (Thomas Hobbes): Onde não existe governo ou lei, os homens naturalmente caem em contendas. Desde que os recursos são limitados, ali haverá competição, que leva ao medo, à inveja e a disputa. Os homens também naturalmente buscam a glória, derrubando os outros pelas costas, já que, de um modo geral, as pessoas são mais ou menos iguais em força e inteligência, nenhuma pessoa ou nenhum grupo pode, com segurança, reter o poder. Assim sendo, o conflito é perpétuo, e “cada homem é inimigo de outro homem”.
Contraponto – Aldous Huxley (1928): belíssimo romance de Huxley, meu preferido.
Trecho: Romântico, romântico! – escarneou ela. – Tens uma maneira tão absurdamente antiquada de pensar nas coisas. Matar e tripudiar sobre cadáveres e amar e o mais que segue. É ridículo. Por que não andas logo de fraque e plastrão?… Procura ser um pouco mais moderno.
– Prefiro ser humano.
– viver modernamente é viver rapidamente – continuou ela. – Não podes carregar um vagão cheio de idéias e romantismo nestes tempos. Quando viajamos de avião, devemos deixar para trás as bagagens pesadas. A velha alma de antanho sentava muito bem quando se vivia vagarosamente. Mas é pesada demais para os nossos dias. Não há lugar para ela no avião…
– Nem mesmo para um coração? – perguntou Walter. – Não me preocupa muito a alma. – Já uma vez se preocupara com ela. Mas agora que a sua vida não consistia em ler filósofos, ele estava um pouco menos interessado nela. – mas o coração – ajuntou -, o coração…
Lucy sacudiu a cabeça.
– Talvez seja uma pena – concedeu ela. – mas tudo tem o seu preço. Se gostamos da velocidade, se queremos ganhar terreno, não podemos levar bagagem. Trata-se de saber o que queremos, e de estarmos prontos a pagar o preço devido. Eu sei exatamente o que quero; assim, sacrifico a bagagem. Se te agrada viajar num caminhão de mudanças, viaja. Mas não esperes que eu te acompanhe, ó meu suavíssimo Walter. Não esperes que eu leve o teu piano de cauda no meu monoplano de dois lugares.
O Lobo da Estepe – Hermann Hesse (1927): outro dos meus queridos, tornou-se obsessão a partir dali.
Trecho: Então, que quer mais?
– Quero mais. Não estou satisfeito em ser feliz, não fui criado para isso, não é este o meu destino. Meu destino é exatamente o contrário.
– Ser infeliz? Mas isso você era antes, quando não queria voltar para casa com medo da navalha.
– Não, Hermínia, é algo mais. Àquela época, concordo, eu era muito infeliz. Mas tratava-se de uma infelicidade idiota que não conduzia a nada.
– Por quê?
– Porque eu não devia sentir medo da morte se ao mesmo tempo a desejava. A infelicidade de que necessito e por que anseio é diferente: é uma infelicidade que me permitiria sofrer com ânsia e morrer com prazer. Essa é a infelicidade, ou felicidade, por que anseio.
– Compreendo. Nisso somos iguais. Mas que tem contra a felicidade que encontrou agora, com Maria? Por que não está contente?
– Não tenho nada contra essa felicidade. Oh, não! Gosto de Maria. Estou satisfeito com ela. É maravilhosa como um dia de sol em meio à um verão chuvoso. Mas sinto que isso não pode durar. Além do mais, trata-se de uma felicidade infrutífera. Dá satisfação, mas a satisfação não é alimento para mim. Faz adormecer o lobo da estepe, torna-o dócil. Mas não é uma felicidade pela qual se possa morrer.
– Mas é preciso morrer por alguma coisa, Lobo da Estepe?
– Creio que sim! Minha felicidade enche-me de contentamento e posso suportá-la ainda por algum tempo. Mas quando a felicidade me permite um pouco de reflexão, aí meu desejo não é de mantê-la para sempre, mas antes voltar a sofrer, só que de maneira mais bela e menos lamentável do que antes. Anseio por uma dor que me prepare e me faça desejar a morte.
O Processo – Kafka (1925): na minha jornada de descobrimento dos clássicos, Kafka bateu forte, inevitável.
Trecho: K. mal prestou atenção nesses discursos; não dava muita importância ao direito, que talvez ainda tivesse, de dispor das suas coisas; para ele era muito mais relevante chegar à clareza sobre sua situação, mas na presença dessas pessoas não podia nem ao menos refletir; sem cessar, a barriga do segundo guarda – de fato só poderiam ser guardas – batia literalmente nele, de um modo amistoso, mas quando erguia os olhos via um rosto ossudo, seco, destoante desse corpo gordo, com o nariz forte virado para o lado, que se entendia por cima dele com o outro guarda. Que tipo de pessoas eram aquelas? Do que elas falavam? A que autoridade pertenciam? K. ainda vivia num Estado de Direito, reinava paz em toda parte, todas as leis estavam em vigor, quem ousava cair de assalto sobre ele em sua casa? Ele tendia a levar as coisas pelo lado mais leve possível, a crer no pior só quando este acontecia, a não tomar nenhuma providência para o futuro, mesmo que tudo fosse ameaça. Aqui porém não parecia acertado; na verdade, tudo podia ser uma brincadeira, uma brincadeira pesada, que os colegas de banco tinham organizado por motivos desconhecidos, talvez porque ele hoje completasse trinta anos de idade; isso naturalmente era possível, talvez ele só precisasse de alguma maneira rir na cara dos guardas para que esses rissem juntos, quem sabe fossem serviçais da esquina, não pareciam diferentes deles – apesar de tudo estava dessa vez formalmente determinado, desde que viu pela primeira vez o guarda Franz, a não ceder a mínima vantagem que por acaso tivesse diante dessas pessoas. K. atribuía um perigo ínfimo ao fato de que mais tarde pudessem dizer que ele não entendia uma brincadeira, mas sem dúvida se lembrava – sem que de resto tivesse sido hábito seu aprender com a experiência – de alguns casos em si mesmos insignificantes nos quais, ao contrário dos amigos, havia se comportado conscientemente de modo descuidado, sem a mínima sensibilidade para as possíveis conseqüências, sendo assim punido pelo resultado. Isso não deveria acontecer de novo, pelo menos não desta vez; se era uma comédia, então iria participar dela.
Herzog – Saul Bellow (1964): a vida que aprendeu a prosperar com o veneno
Trecho (artigo recomendado): “Minha vida – não uma longa enfermidade, mas uma longa convalescença. O organismo que aprendeu a prosperar com o veneno. (…) Mas como continuamos encantadores, apesar de tudo.”
Trópico de Câncer – Henry Miller (1934): como não se envolver com a escrita desse cara?
Trecho: Não tenho dinheiro, nem recursos, nem esperanças. Sou o mais feliz dos homens vivos. Há um ano, há seis meses, eu pensava ser um artista. Não penso mais nisso. Eu sou. Tudo quanto era literatura se desprendeu de mim. Não há mais livros a escrever, graças a Deus.
E isto então? Isto não é um livro. Isto é injúria, calúnia, difamação de caráter. Isto não é um livro, no sentido comum da palavra. Não, isto é um prolongado insulto, uma cusparada na cara da Arte, um pontapé no traseiro de Deus, do Homem, do Destino, do Tempo, do Amor, da Beleza…. e do que mais quiserem. Vou cantar para você, um pouco desafinado talvez, mas vou cantar. Cantarei enquanto você coaxa, dançarei sobre seu cadáver sujo…
Para cantar é preciso primeiro abrir a boca. É preciso ter um par de pulmões e um pouco de conhecimento de música. Não é necessário ter harmônica ou violão. O essencial é querer cantar. Isto é, portanto, uma canção. Eu estou cantando.
É para você, Tânia, que estou cantando. Desejaria poder cantar melhor, mais melodiosamente, mas então talvez você jamais consentisse em ouvir-me. Você já ouviu outros cantarem e permaneceu fria. Cantavam bonito demais ou não cantavam suficientemente bonito.
Ulysses – James Joyce (1922): qualquer coisa que se fale sobre Joyce é insuficiente
Trecho: Saltou fora da plataforma de tiro e olhou seriamente para o seu observador, juntando em volta das pernas as dobras soltas de seu penhoar. A cara rechonchuda e sombria e a queixada oval e taciturna lembravam um prelado, patrono das artes na idade média. Um sorriso agradável desabrochou em seus lábios.
– A ironia das coisas! – disse ele alegremente. – Seu nome absurdo, um grego antigo!
Ele apontou com o dedo num gesto amigável e se encaminhou para o parapeito rindo consigo mesmo. Stephen Dedalus se aproximou, acompanhou-o e a meio caminho cansado se sentou na beira da plataforma de tiro, observando-o enquanto ele apoiava o espelho no parapeito, molhava o pincel na tigela e passava a espuma na face e no pescoço.
Cem Anos de Solidão – Gabriel García Marquez (1967): minha definição de “suculento”
Trecho: Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o Coronel Aureliano Buendía havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de vinte casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome e para mencioná-las se precisava apontar com o dedo. Todos os anos, pelo mês de março, uma família de ciganos esfarrapados plantava a sua tenda perto da aldeia e, com um grande alvoroço de apitos e tambores, dava a conhecer os novos inventos.
Tudo Que É Sólido Desmancha no Ar (A Aventura da Modernidade) – Marshall Berman (1982): Berman é um teórico incrível. um dos poucos que conseguem passar longe do “rebuscamento” tão forçado e desnecessário de 95% deles, sendo lúcido e brilhante.
Trecho: Nossas vidas são controladas por uma classe dominante de interesses bem definidos não só na mudança, mas na crise e no caos. “Ininterrupta perturbação, interminável incerteza e agitação”, em vez de subverter esta sociedade, resultam de fato no seu fortalecimento. Catástrofes são transformadas em lucrativas oportunidades para o redesenvolvimento e a renovação; a desintegração trabalha como força mobilizadora e, portanto, integradora. O único espectro que realmente amedronta a moderna classe dominante e que realmente põe em perigo o mundo criado por ela à sua imagem é aquilo por que as elites tradicionais (e, por extensão, as massas tradicionais) suspiravam: uma estabilidade sólida e prolongada. Neste mundo, estabilidade significa tão somente entropia, morte lenta, uma vez que nosso sentido de progresso e crescimento é o único meio que dispomos, para saber, com certeza, que estamos vivos. Dizer que nossa sociedade está caindo aos pedaços é apenas dizer que ela está viva e em forma.
Memórias do Subsolo – Dostoyevsky (1864): pungente como só quem leu sabe
Trecho: “Ali, no seu ignóbil e fétido subsolo, o nosso camundongo, ofendido, machucado, coberto de zombarias, imerge logo num rancor frígido, envenenado e, sobretudo, sempiterno. Há de lembrar, quarenta anos seguidos, a sua ofensa, até os derradeiros e mais vergonhosos pormenores; e cada vez acrescentará por sua conta novos pormenores, ainda mais vergonhosos, zombando maldosamente de si mesmo e irritando-se com a sua própria imaginação. Ele próprio se envergonhará dessa imaginação, mas, assim mesmo, tudo lembrará, tudo examinará, e há de inventar sobre si mesmo fatos inverossímeis, com o pretexto de que também estes poderiam ter acontecido, e nada perdoará.”
A Peste – Albert Camus (1947): agonizante
Trecho (artigo recomendado): “A partir desse momento, pode-se dizer que a peste se tornou um problema comum a todos nós. Até então, apesar da surpresa e da inquietação trazidas por esses acontecimentos singulares, cada um de nossos concidadãos continuara suas ocupações conforme pudera, no seu lugar habitual. E, sem dúvida, isso devia continuar. No entanto, uma vez fechadas as portas, deu-se conta de que estavam todos, até o próprio narrador, metidos no mesmo barco e que era necessário ajeitar-se. Assim é, por exemplo, que, a partir das primeiras semanas, um sentimento tão individual quanto o da separação de um ente querido se tornou, subitamente, o de todo um povo e, juntamente com o medo, o principal sofrimento desse longo tempo de exílio.”
Almas Mortas – Gogol (1842): mergulho na sociedade russa, fundamental.
Trecho: Eu considero inteligente o homem que em vez de desprezar este ou aquele semelhante é capaz de o examinar com olhar penetrante, de lhe sondar por assim dizer a alma e descobrir o que se encontra em todos os seus desvãos. Tudo no homem se transforma com grande rapidez; num abrir e fechar de olhos, um terrível verme pode corroer-lhe as entranhas e devorar-lhe toda a sua substância vital. Muitas vezes uma paixão, grande ou mesquinha pouco importa, nasce e cresce num indivíduo para melhor sorte, obrigando-o a esquecer os mais sagrados deveres, a procurar em ínfimas bagatelas a grandeza e a santidade. As paixões humanas não têm conta, são tantas, tantas, como as areias do mar, e todas, as mais vis como as mais nobres, começam por ser escravas do homem para depois o tiranizarem.
Bem-aventurado aquele que, entre todas as paixões, escolhe a mais nobre: a sua felicidade aumenta de hora a hora, de minuto a minuto, e cada vez penetra mais no ilimitado paraíso da sua alma. Mas existem paixões cuja escolha não depende do homem: nascem com ele e não há força bastante para as repelir. Uma vontade superior as dirige, têm em si um poder de sedução que dura toda a vida. Desempenham neste mundo um importante papel: quer tragam consigo as trevas, quer as envolva uma auréola luminosa, são destinadas, umas e outras, a contribuir misteriosamente para o bem do homem.
O Guardador de Rebanhos – Alberto Caeiro (1925): poema definidor
Trecho:
Tenho o costume de andar pelas estradas
Olhando para a direita e para a esquerda,
E de vez em quando olhando para trás…
E o que vejo a cada momento
É aquilo que nunca antes eu tinha visto,
E eu sei dar por isso muito bem…
Sei ter o pasmo essencial
Que tem uma criança se, ao nascer,
Reparasse que nascera deveras…
Sinto-me nascido a cada momento
Para a eterna novidade do Mundo…
(…)
Pensar no sentido íntimo das cousas
É acrescentado, como pensar na saúde
Ou levar um copo à água das fontes.
O único sentido íntimo das cousas
É elas não terem sentido íntimo nenhum.