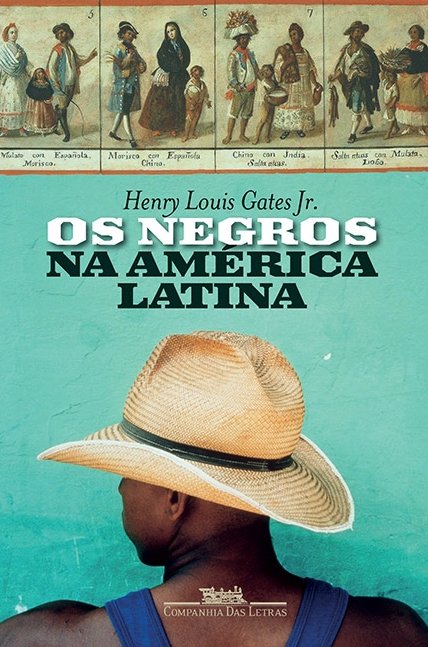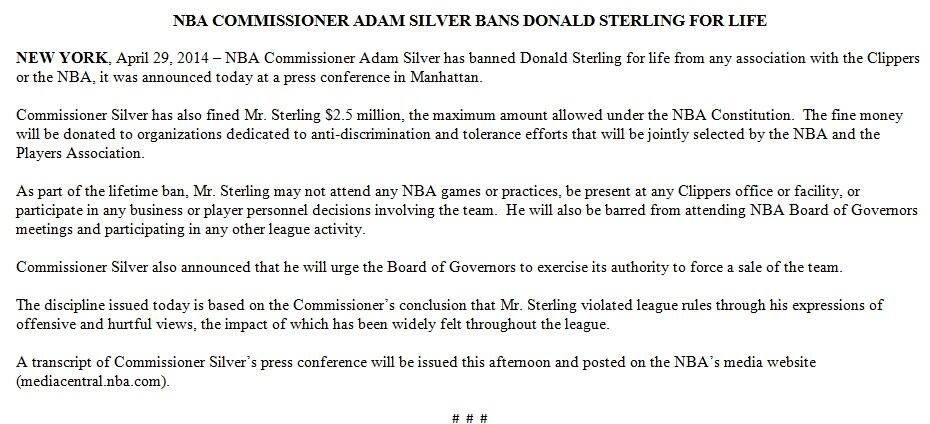Desde sempre, o brasileiro é ensinado a crer que somos absolutamente incompetentes em organização, administração, em prover infraestrutura adequada, produzimos pouco e que tudo nesse país, resumindo, é uma bandalheira sem limites, que estamos muito abaixo do resto do mundo e que pagamos impostos demais e recebemos de menos.
Esse discurso é muito interessante para uma classe abastada repleta de privilégios – isenção fiscal aos milhões e bilhões, financiamento federal pra lá de generoso, dívidas que são roladas a perder de vista, falta de respeito às leis trabalhistas – gente que sonega, rouba, lucra altíssimo com “essa bandalheira toda que tá aí”, gosta de espernear ao menor sinal de redução de seus ganhos históricos e por aí afora. Taí a desindustrialização que não me deixa mentir, tema para outro post.
Tomamos como exemplo a Copa do Mundo: o fracasso absoluto e a vergonha que passaríamos diante do mundo, alardeado exaustivamente por toda a imprensa durante os últimos anos, “subitamente”, transformou-se num evento de sucesso fora e dentro e dos estádios. Esportivamente já celebrada como uma das melhores Copas de todos os tempos (média de gols, qualidade dos jogos) e também pela estrutura, pelo povo, etc.
Daí que esse editorial da Folha é didático. O “torneio de surpresas” que, opa, tá dando muito certo mas, err, bem, tivemos um probleminha no som, chilenos invadiram a sala de imprensa do Maracanã – coisas minúsculas e irrelevantes e tudo de organização da FIFA, lembrem-se – resultam no famoso engolir à seco a história toda.
E é preciso que gringos venham para cá para dizer que nossos aeroportos são tão ou mais eficientes e rápidos que os aeroportos mundo afora – taí o Alexis Lalas, referência do futebol dos EUA – para a tigrada reconhecer. Síndrome maior do complexo de vira-lata não há: somente após a validação estrangeira é que passamos a ver certa coisa com outros olhos. Foi sempre assim e há poucos indicativos que passará a ser diferente. Em eventos, serviços e na música, no cinema, no diabo a quatro.
“Só no Brasil” é que erros acontecem, “só no brasil” é que as coisas podem não funcionar perfeitamente, “só aqui” é que isso e aquilo ocorre, “o horror”, “o horror”, se apressa em gritar a elite dominada pelo senso comum mais rasteiro e previsível. E aí qualquer mínimo problema, qualquer contratempo, por mais irrelevante que seja, é tratado com alarde e ranger de dentes. A mesma mídia está aí nos oferecendo exemplos diários e fartos disso.
Nos Estados Unidos, o ápice do capitalismo funcional por excelência e ficando na esfera esportiva, sempre tido como exemplo máximo de competência e organização, conseguiu, na final do Super Bowl, tido como o evento esportivo mais importante do país, vitrine pro mundo, ACABAR A ENERGIA, atrasando e muito o espetáculo midiático todo. Há pouquíssimo tempo, nas finais da NBA, maior liga de alcance mundial dos EUA, o sistema de ar-condicionado do San Antonio Spurs DEU PANE e jogadores foram obrigados a disputar a partida acima dos 30 graus (quando se joga abaixo dos 18), fazendo com que Lebron James, maior astro da NBA, passasse mal de desidratação, com cãibras, saindo do jogo carregado.
Caso algo minimamente parecido acontecesse por aqui, o escarcéu seria geral e infinito, textos e mais textos, comentários e mais comentários seriam gerados sobre o “vexame histórico”, a “inaceitável” organização, o maldito “jeitinho brasileiro”, tascando o selo vira-lata de inferioridade perante o mundo. Mas não. Foi lá. Em momentos chaves das ligas esportivas mais milionárias e visadas do planeta, no país exemplar “que deve servir de modelo sempre”. Acontece, né? Nem um pio.
Luiz Caversan, na Folha, pergunta:
“”Algum caro economista aí é capaz de me dizer como faço para calcular o prejuízo que os arautos do pessimismo e do mau humor, ‘black blocks’ e cia. à frente, causaram ao país?
Por conta de tudo o que não foi feito, tudo o que deixou de ser investido para gerar receita, com tudo o que se poderia ter sido oferecido, vendido para torcedores, turistas, comitivas e quetais, tendo como temática a Copa, e não foi. Quanto?”
Bota na conta da mídia. Pode botar na nossa conta. O terrorismo incansável – e acéfalo, com pouquíssima base no mundo real – é grande responsável por tudo isso. Não foi a primeira vez e não será a última. As eleições de 2002 são outro exemplo óbvio.
E você, talvez, está revoltado com “os gastos abusivos realizados pelo governo brasileiro com a Copa do Mundo”? Saiba que os 11.5 bilhões de dólares gastos em projetos de transporte, infraestrutura e nos próprios estádios, representam somente 0.7% – ZERO PONTO SETE PORCENTO – do que foi investido no Brasil entre 2010 e 2014. Matéria do Wall Street Journal.
Governos municipais e estaduais, no entanto, excederam bastante sua previsão de gastos para a Copa. Caso de Belo Horizonte e Mato Grosso, como mostra a matéria. De vez em quando é bom entender um pouco de gestão compartilhada – ou tripartite, em termos oficiais.
Óbvio, tudo isso não significa que todos os nossos problemas se resolveram e nossa abissal desigualdade social, etc, etc, etc. Não se trata de ser mero ufanista e pacheco. Muitas outras coisas estão sendo feitas para mudar isso. Significa somente reconhecer o estado das coisas em que estamos metidos. O desserviço prestado pela imprensa, que coloca o público e o cidadão como o último interessado do que produz, porque tem muitos outros interesses prévios para atender – e sabemos muito bem quais são.